Pesquisar a ditadura militar é trilhar um caminho longo, tortuoso, complexo e cheio de armadilhas. Há poucos dias foi anunciado, em diversos veículos da imprensa, um novo livro sobre a Guerrilha do Araguaia. Entre os vários trechos publicados, um se destaca: a história de uma guerrilheira que teria se apaixonado e beijado seu executor, um militar. Um suposto caso de amor no meio de um conflito violento, durante a ditadura. O livro se chama Borboletas e Lobisomens. Vidas, Sonhos e Mortes dos Guerrilheiros do Araguaia, de autoria do jornalista Hugo Studart, e saiu com o selo da editora Francisco Alves, antiga casa de edição carioca que havia muito não publicava nada especialmente relevante.
Studart escreve a partir da visão de um militar que lhe faz o relato. O nome verdadeiro do algoz “apaixonado” não é revelado. Mas sabemos que Áurea, a combatente presa, tem nos braços um bebê de três meses. Em outra cena, o bebê desaparece sem que isso fosse objeto sequer da curiosidade do escritor.
O jornalista Hugo escreve sobre o Araguaia há bastante tempo. Fez mestrado e doutorado sobre o tema na UnB, sob orientação da Profa Dra Cléria Botelho da Costa. Seu nome completo é Carlos Hugo Studart Correa, como está na versão em pdf do seu doutorado disponível no site da UnB. Hugo também escreveu um livro premiado, A lei da selva, sobre o Araguaia, que saiu pela Geração Editorial em 2006.
Leia também: ‘Cena de amor’ entre soldado e guerrilheira no Araguaia é, na verdade, estupro, diz ex-combatente
Há vários problemas de interpretação histórica apenas nesse relato, transcrito pelo site Congresso em Foco. A interpretação como amor algo que é pura violência, tortura (física e psicológica) e, aparentemente, estupro. Mas há outro problema, que é o tema deste texto: uma enorme armadilha para os historiadores, a falta de transparência nas fontes usadas por Studart.
Os militares citados nos volumes nunca têm nomes, as fontes nunca aparecem falando, os documentos são escondidos ou, no máximo, são parcialmente revelados. Nunca se sabe quem passou o documento para ele ou aonde os papéis se encontram – algo fundamental numa pesquisa acadêmica bem fundamentada ou numa boa apuração jornalística, que é abrir a possibilidade de checagem e de reuso e reinterpretação. O fato de o assunto ser sensível torna ainda mais imprescindível no mínimo indicar as fontes.
A ultrapassada teoria dos dois demônios
Para um pesquisador que se debruça sobre a ditadura militar e diz usar a ótica dos Direitos Humanos, Hugo Studart na prática reafirmar a “teoria dos dois demônios”. Nessa maneira de pensar, a esquerda teria a equivalência política, econômica e social do então governo da época. Pesquisadores contemporâneos do assunto, especialmente quando estudam regimes de exceção (como o nazismo), não usam mais essa maneira de analisar a realidade, que esconde ou ameniza os crimes cometidos pelos regimes de exceção e acaba sendo, na prática quotidiana do debate político e dos tribunais, utilizada para justificar crimes cometidos pelos Estados. Nos trabalhos de Studart, a “teoria dos dois demônios” é também usada para acusar a esquerda de crimes ou de atentados contra ela mesma. É o suprassumo da violência: a vítima é a culpada não apenas por ser torturada ou morta, como também pela queda, tortura e morte de companheiros.
O pai militar
Das ocultações de fontes, a mais grave me parece ser o fato de o jornalista não dizer quem era o pai na cadeia de comando do Centro de Informações da Aeronáutica. Então, para os leitores do livro e deste texto, vamos dizer claramente o que poderia passar despercebido: Hugo Studart é filho de um militar que ocupava, durante o massacre que foi o combate à Guerrilha do Araguaia, um alto posto no comando do CISA, o serviço de informações da Aeronáutica.
Certamente tal fato deu a Studart, ao longo de sua carreira e especialmente na escritura de seus trabalhos de maior fôlego, um trânsito privilegiado dentre os militares envolvidos no combate à guerrilha do Araguaia. Para quem lê com atenção e conhece detalhes da história do Araguaia, é bastante claro que Jonas Alves Correa, que vive atualmente no Pará, direta ou indiretamente, abriu várias portas e fez com que muitos militares de alta patente falassem ao filho. Também é possível entrever que o pai de Studart foi um informante importante para seus trabalhos.
E isso nunca é dito ao leitor, de forma direta e transparente.
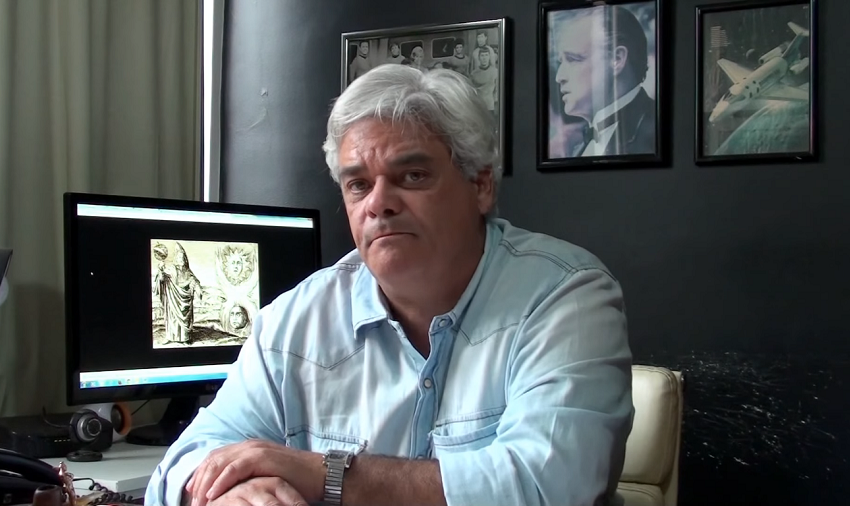
Hugo Studart é o autor de ‘Borboletas e Lobisomens. Vidas, Sonhos e Mortes dos Guerrilheiros do Araguaia’ (Reprodução/YouTube)
Vários livros sobre a ditadura militar foram escritos por membros das Forças Armadas, da repressão ou por políticos que apoiavam o regime. Praticamente todos, de alguma forma tentam justificar as atrocidades cometidas no período, a falta de liberdade e o regime de exceção. Carlos Alberto Brilhante Ustra, coronel torturador e chefe do DOI-CODI em São Paulo, escreveu dois, Rompendo o silêncio (1987) e A verdade sufocada (2006). O general e ministro do exército Leônidas Pires Gonçalves coordenou o projeto Orvil (a palavra “livro” escrita ao contrário) para dar a visão da ditadura depois da publicação do Projeto Brasil Nunca Mais, em que presos políticos descreviam suas torturas num Tribunal de Justiça. Muitos dos grandes generais e políticos do período deram longas entrevistas à Fundação Getúlio Vargas, que se tornaram também livros, como foi o caso do General Cordeiro de Farias, com o volume Diálogo com Cordeiro de Farias (1981), organizado por Aspásia Camargo e Walder de Góes. A lista inclui ainda presidente Ernesto Geisel, o governador paulista Paulo Egydio Martins, a deputada Ivete Vargas e um nome que vai voltar daqui a pouco, o brigadeiro João Paulo Moreira Burnier (só nessa lista há mais de cem depoimentos para quem quer mergulhar no assunto). Ou seja, quem quis falar e defender o regime, falou, escreveu e defendeu a ditadura. Alguns, como o delegado do DOPS Cláudio Guerra, se dizem arrependidos em livros como Memórias de uma guerra suja (2012).
Muitos desses depoimentos e livros trazem informações relevantes para se compreender a ditadura. Trazem até mesmo pistas para se entender o que aconteceu realmente com determinado militante desaparecido (aonde teria morrido, em que circunstâncias, etc). Mas, em meio a algumas verdades, os livros trazem um amontoado de mentiras, meias-verdade e informações erradas, plantadas nas publicações para despistar o leitor. O objetivo, na imensa maioria dos casos, é, de alguma forma, colocar a culpa da tortura, dos desaparecimentos e das mortes nas próprias pessoas e organizações que combatiam a Ditadura e que foram torturadas, mortas e “desaparecidas”.
Quando indica claramente suas fontes e documentos, um jornalista ou historiador permite a contraprova por seus pares: uma checagem, uma interpretação diferente, um escrutínio básico que valida ou não a informação publicada. É uma forma que essas profissões encontram para desarmar mentiras, procurar interesses (legítimos ou não do autor), avaliar a relevância ou, no limite, descartar o material, encarando-o simplesmente como propaganda da Ditadura.
No caso dos livros e trabalhos de Studart, isso não é um método. Com enorme frequência não se conhece quem passou as informações e com qual objetivo. Estaríamos diante de mais um caso de trabalhos para enganar leitores e pesquisadores?
A relevância do pai de Hugo Studart
Conhecer a carreira de Jonas Alves Correa é, portanto, fundamental para uma leitura crítica do trabalho do jornalista Hugo Studart. E, para se entender a importância de Jonas Alves Correa durante a ditadura, é preciso voltar-se um pouco para sua vida nos anos do regime fechado.
Studart, sem dizer que Jonas era seu pai, escreve o seguinte sobre Jonas Alves Correa no livro A lei da Selva: “Era na ocasião o chefe da Seção de Operações do CISA (Centro de Informações da Aeronáutica) em Brasília. Entrou para a área de informações em 1966. A partir de 1969, passou a organizar redes de informantes, treinou civis e militares em operações de inteligência. Era especialista em recrutar militantes das organizações de luta armada, como de infiltrar agentes, principalmente na região Centro-Oeste. Acompanhou os conflitos no Araguaia desde a primeira fase, a partir de Brasília. A partir da Segunda Campanha, começou a enviar agentes de busca, em sistema de rodízio, para apoiar o CIE na prospecção de informações junto à população local. Como assessor direto do brigadeiro Vassallo, mantinha-o informado sobre o que ocorria no Araguaia. No final dos conflitos da Terceira Campanha, esteve uma vez na área como observador. O documento Relatório Especial de Informações Nº 1/74, do CIE, registra que quatro agentes do CISA (portanto, subordinados diretos seus) foram enviados para apoiar o Exército na Operação Marajoara. Até a presente data, não há documentos conhecidos que cite sua participação na repressão urbana ou rural, mas somente depoimentos orais de militares a esta pesquisa.”
Jonas Alves Correa trabalhou também com o Brigadeiro João Paulo Moreira Burnier (1919-2000), já citado neste texto, um dos idealizadores do golpe de Estado contra o então presidente Juscelino Kubitschek em dezembro de 1959, que ficou conhecido como Revolta de Aragarças.
Burnier foi preso na época, mas acabou anistiado por JK, seguiu sua carreira militar e envolveu-se com a derrubada de João Goulart e a implantação da ditadura militar. Sempre foi conhecido como um militar da “linha-dura” do regime, muito envolvido com a repressão e os serviços de inteligência. Recebeu treinamento na Escola das Américas, no Panamá, criada pelos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial que, a partir de 1961, passou a trabalhar na formação de agentes de diversos países para “combater o comunismo”.
Jonas Alves Correa, logo nos seus primeiros tempos no serviço de inteligência da Aeronáutica, em 1966, ganhou a Medalha do Pacificador, uma premiação que foi dada, durante a ditadura, a muitos violadores dos direitos humanos.
A partir de 1969, Burnier ficou responsável pelo CISA, sob as ordens diretas do ministro da Aeronáutica, Márcio de Souza Melo. Ele foi o idealizador do caso que ficou conhecido como Para-Sar, em 1968, em que se pretendia usar os paraquedistas da FAB numa série de atentados que seriam atribuídos à esquerda, incluindo a destruição do gasômetro no Rio de Janeiro. Burnier e o CISA também estão ligados com o desaparecimento, tortura e morte do deputado Rubens Paiva, em janeiro de 1971, bem como ao desaparecimento, tortura e morte de Stuart Angel Jones, militante e filho da estilista Zuzu Angel, em junho de 1971.
Em depoimento à Comissão da Verdade, o professor titular da escola politécnica da UFBA João Augusto de Lima Rocha declarou: “Em dezembro de 1988, Luiz Viana Filho (advogado e político que governou a Bahia entre 1967 e 1971) me confessou que Anísio Teixeira (intelectual e educador que fundou a Universidade de Brasília) foi preso no dia que desapareceu em 11 de março de 1971 e levado para o quartel da Aeronáutica, em uma operação que teve como mentor o brigadeiro João Paulo Burnier, figura conhecida do regime militar e que tinha o plano de matar todos os intelectuais mais importantes do Brasil na época”. Teixeira foi morto num suposto acidente, sendo encontrado num poço de elevador, versão já revista historicamente: ele foi assassinado. Burnier também estaria ligado ao Grupo Secreto, organização de extrema direita que colocava bombas ou mandava cartas-bombas para alvos que considerava de esquerda, com ajuda de oficiais das forças armadas, que forneciam os explosivos. A última ação do grupo teria sido a explosão do Rio-Centro em 1980.
Como membro altamente graduado da CISA na época da guerrilha do Araguaia, o coronel-aviador Jonas Alves Correa, pai de Carlos Hugo Studart Correa, provavelmente sabia e esteve envolvido de alguma maneira nesses acontecimentos.
O brigadeiro Burnier foi aposentado em 1972. Morreu em 13 de junho de 2000, e Jonas escreveu um obituário do brigadeiro que está publicado no Ternuma, ligado a grupos radicais de direita das forças armadas (https://ternuma.com.br/index.php/revanchismo/14-revanchismo/3-brigadeiro-burnier-obtuario).
No site, ele agradece ao brigadeiro pelo tempo em que serviram juntos na Aeronáutica, destacando o auxílio oftalmológico que Burnier fornecia aos subordinados na clínica de um parente médico de Campinas. A clínica ainda existe e se chama Penedo Burnier. Jonas escreve: “Por trás do seu tipo, aparentemente atropelado, havia uma grande criatura humana que fazia questão de conhecer os problemas sociais de seus comandados, principalmente dos militares subalternos. Nunca deixou de apoiar as famílias dos seus comandados quando estavam fora, em missões prolongadas. E quantos foram atendidos gratuitamente no Instituto de Oftalmologia Penido Burnier, em Campinas, que pertencia a parente seu?”Jonas ainda defende, no obituário, que “sua carreira, como Brigadeiro do Ar, foi cortada abruptamente por divergências políticas com grupos que almejavam o Poder.”
Aposentado, Burnier não teria participado ativamente do desmantelamento da Guerrilha do Araguaia. Jonas continuou sua carreira na Aeronáutica, sob o comando do brigadeiro Newton Vassalo.
Ao não explicitar suas fontes e especialmente a relação de seu pai com o massacre do Araguaia, Hugo Studart põe em xeque sua própria credibilidade. Não é crime ser filho de ninguém, mas um autor sério tem o dever de informar seus leitores de relações assim. Studart, nascido em 1961, não escreve sobre arte do século 13, escreve sobre um episódio que, de alguma forma, fazia parte do quotidiano de Jonas, com quem tomava, ou não, café da manhã aos dez, onze, doze anos de idade.
Hugo ganhou diversos prêmios, entre eles o prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos, com seu livro A lei da Selva. Ele foi, também, pesquisador da Comissão da Verdade. O trânsito amplo do pesquisador contrasta com a falta de transparência: não queremos de Hugo Studart histórias fantasiosas de amor na selva, queremos dele detalhes sobre suas fontes, os documentos que cita e a atuação do seu pai no combate à Guerrilha do Araguaia.
Joana Monteleone é historiadora e, com outros pesquisadores, autora de “À Espera da Verdade” e do artigo “O GPMI da Fiesp, a Escola Superior de Guerra e a Doutrina de Segurança nacional na mobilização empresarial-militar”, no livro Golpes na História e na Escola (Cortez).





















































