Desde o golpe empresarial-militar de 1964, já se vão mais de 51 anos. É muito tempo.
O primeiro livro de Marcelo Rubens Paiva que li, Blecaute, foi lançado em 1986. Se a memória não me trai, li em 1988, 1989. Desde então, leio Marcelo com alguma frequência nos jornais e na internet, e alguns acasos me levaram a poder estar presente em dois lançamentos mais ou menos recentes – de Malu de Bicicleta, um romance que se passa em boa medida na rua Augusta, e agora Ainda estou aqui, um livro de memórias. Conheço Marcelo da lida de jornalista, mas não sou seu amigo pessoal; não sei onde mora, não conheço ninguém de sua família pessoalmente.
Li, dos livros, Blecaute, Feliz Ano Velho, Malu de Bicicleta e Ainda estou aqui. Os três primeiros se passam em cenários que me foram e me são profundamente conhecidos. Vivi entre diversas cidades do Vale do Ribeira, entre 1986 e 1995, quando meu pai se aposentou. Nesse período, ele trabalhou em Miracatu, Jacupiranga, Eldorado e Pariquera-Açu. Nem sempre residi com ele, tinha vindo estudar em São Paulo, mas voltava para casa aos finais de semana. Minha carteira de trabalho e meu alistamento militar fiz em Pariquera.
Ler Marcelo sempre foi um prazer pessoal, e por isso essa resenha vai tão em primeira pessoa: não vou esquecer nunca imagens como a BR-116 com os carros parados, a avenida Paulista tingida de vermelho, e os ratos tomando o cine Belas Artes em BlecauteFeliz Ano VelhoMalu de Bicicleta.
Assim, o espaço concreto desses livros de Paiva parecem pertencer também a mim e a minha memória.
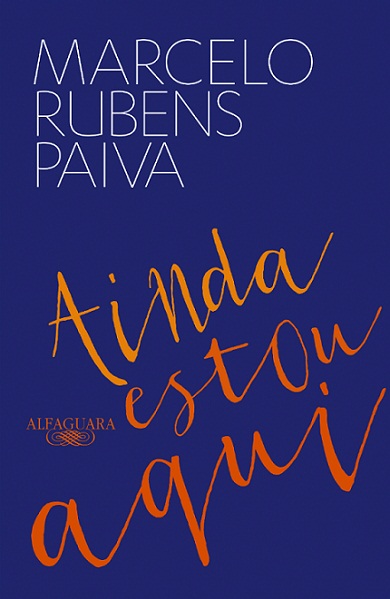 Ainda estou aqui, no entanto, fala de um mundo que eu só conheço de livros e de pesquisa em documentos. Um mundo que entrou para a clandestinidade há 51 anos, apesar de bem nascido, apesar de bem vivido, apesar de bem intencionado. O mundo da resistência “dos de cima” à violência do golpe militar. Com esse mundo, minha identificação é mais distante.
Ainda estou aqui, no entanto, fala de um mundo que eu só conheço de livros e de pesquisa em documentos. Um mundo que entrou para a clandestinidade há 51 anos, apesar de bem nascido, apesar de bem vivido, apesar de bem intencionado. O mundo da resistência “dos de cima” à violência do golpe militar. Com esse mundo, minha identificação é mais distante.
A gente sabe do papel de Fernando Gasparian no financiamento da imprensa independente dos anos 1970; a gente sabe que tanta gente do Leblon largou tudo e partiu pra luta; a gente sabe que entre os primeiros perseguidos do regime estava gente que integrava o governo João Goulart ou sua base no Congresso, que foram logo cassados. No entanto, essa gente não é a minha, é gente que admiro, mas com quem não convivo no dia-a-dia. Pra quem vem de uma classe média do interior, sem ligações com a política e a burguesia de São Paulo, esse mundo é enigmático e permanecerá, sempre, cheio de códigos indecifráveis.
Isso tudo é um preâmbulo para dizer que mergulhei mais uma vez na escrita de Marcelo Rubens Paiva. Em sua leveza, em sua sensibilidade, em sua franqueza, em sua sinceridade. Li de um tiro, assim que abri, Ainda estou aqui.
Comecei a leitura com uma surpresa: ignorava que a mãe de Marcelo Paiva sofria de Alzheimer. Essa informação mostrou-se, ao mesmo tempo, uma revelação factual e uma revelação literária: nem sempre um livro de memória combina as duas coisas assim, tão evidentemente. Afinal, como pode a viúva de Rubens Paiva ser vítima de uma doença do esquecimento? Ela, que manteve viva a luta pela memória dos mortos e desaparecidos, ela que simbolizou a disputa tão evidente que devemos travar para que o passado não seja apagado, ela que aprendi a citar pelo nome, sem nunca registrar claramente seu rosto – ela estava deixando a luta, a vida, o combate pelo apagamento biológico, pela marca do tempo.
Descobri ou me foi lembrado, vai saber, lendo Ainda estou aqui, que Eunice Paiva em 1983 aproximou a luta dos índios pela demarcação de terras à luta pelo fim da ditadura. Essa posição foi central na reconstrução de centenas – centenas mesmo – de comunidades indígenas no país e pela adoção, na Constituição de 1988, de um texto legal que foi fundamental para fazer esses grupos reviverem. Sei disso porque Paula Monteiro, Beatriz Perrone-Moisés e Dominique Gallois me ensinaram, nas disciplinas de antropologia do curso de Ciências Sociais da USP, em 1997, 1998, que era preciso defender os avanços da Constituição de 1988 nessa área. Já se contam 17, 18 anos dessas aulas.

 51 anos é muito tempo. Se voltarmos atrás 51 anos de quando eu tinha 12 anos e foi lançado Blecaute, chegaríamos ao ano de 1935, o ano do levante da ANL – Aliança Nacional Libertadora. Rubens Paiva pai, Marcelo conta no livro, provavelmente foi morto e torturado porque receberia uma correspondência de ex-militantes da ALN – Ação Libertadora Nacional, a retomada, sob novas bases, por Carlos Marighella, do levante popular contra um poder opressor.
51 anos é muito tempo. Se voltarmos atrás 51 anos de quando eu tinha 12 anos e foi lançado Blecaute, chegaríamos ao ano de 1935, o ano do levante da ANL – Aliança Nacional Libertadora. Rubens Paiva pai, Marcelo conta no livro, provavelmente foi morto e torturado porque receberia uma correspondência de ex-militantes da ALN – Ação Libertadora Nacional, a retomada, sob novas bases, por Carlos Marighella, do levante popular contra um poder opressor.
[Rubens e Eunice Paiva em Brasília em 1960. Acervo Família Rubens Paiva/Divulgação]
51 anos é muito tempo. Em 1964, Rubens Paiva tentou liderar pelo rádio uma cadeia da legalidade no dia 1º de abril. Em vão, não havia III Exército, como Brizola tinha no Rio Grande do Sul em 1961, para dar força concreta à resistência.
O que Rubens Paiva fez para ser tão brutalmente torturado? Essa pergunta que atormentou os filhos é apenas uma das armadilhas que o Estado pós-1964 nos legou, e que nos confunde: nada explica que o poder estabelecido recorra a esse gênero de violência. Nada do que Paiva venha a ter feito permite que façamos essa pergunta. No entanto, fazemos.
51 anos é muito tempo, mas 44 também são. Em 1971, Eunice tinha 41 anos quando o marido simplesmente sumiu. Ela também havia sido presa, junto com uma das filhas. Ela era apenas uma dona de casa, que cuidava dos cinco filhos, entre eles Marcelo, único menino. O que fez Eunice Paiva para ficar 15 dias presa, sob tortura psicológica (não a deixavam dormir nem davam informação sobre os filhos, por exemplo; e depois de sair da cadeia, mentiram descaradamente sobre o marido, cujo corpo ainda não foi encontrado)?
Tudo indica que nada, mas a gente devia ter muita vergonha de fazer essa pergunta. Alguns têm, mas muita gente faz como se fosse a coisa mais natural do mundo.
51 anos é muito tempo, e apenas em 2014 as circunstâncias da morte de Rubens Paiva começaram a ser realmente reveladas. Muitos de seus matadores e ocultadores de cadáver já morreram, mas outros tantos estão vivos. O Supremo Tribunal Federal ainda não avaliou, em sessão plenária, se o caso pode ser julgado ou não, porque a Lei de Anistia, de 1979…
Desde 1979, são 36 anos. Também é bastante tempo. Se recuássemos de 1986 esse período, voltaríamos para 1950, com Getúlio Vargas sendo eleito presidente pelo PTB, o partido de Rubens Paiva.
A realidade e o livro de Marcelo fazem com que a memória de Eunice Paiva se apague sem que a memória de Rubens Paiva sequer tenha a chance de ser reconstruída. Essa é a dualidade explícita da obra: o corpo de Rubens Paiva ainda não está entre nós, e provavelmente nunca venha a ser encontrado, enquanto a memória de Eunice Paiva ainda está aqui, apagada, frágil, incapaz de fazê-la andar.
Enquanto isso, a ditadura militar ainda está aqui, só que mais forte: se a história e a memória desse período se registram por força da literatura, das pesquisas de comissões da verdade, de profissionais da história e dos arquivos que restaram, a interdição inexplicável do tema na Justiça, na política e especialmente nos posicionamentos públicos das Forças Armadas como que nos condena a ficarmos presos ao apagamento dessa vaga de violência iniciada 51 anos atrás.
51 anos é muito tempo.
Em tese, não há pena de morte e não há prisão perpétua no Brasil. É doloroso dizer isso, mas a família Paiva provou das duas: a morte de Rubens e a transformação da metáfora do esquecimento numa doença vivida pelo corpo e pela mente de Eunice.













































