Autor de Os Bestializados (1987) e de A Formação das Almas (1990), o historiador José Murilo de Carvalho é um dos mais importantes historiadores do país. Suas pesquisas ajudaram a entender como se deu (ou não se deu) a participação da população em momentos decisivos da vida política brasileira, como a passagem do Império para a República.
Cidadania no Brasil – O Longo Caminho não é um trabalho para o público acadêmico: pretende promover a discussão da cidadania no país, procurando dar sentido à palavra, desgastada pelo mal uso.
A partir de uma divisão clássica, feita pelo inglês T.H. Marshall, José Murilo traça um histórico dos diferentes direitos que compõem a cidadania: os civis, os políticos e os sociais. No Brasil, o caminho percorrido teria sido inverso do que ocorre na Inglaterra, em que os direitos civis (individuais) levaram à conquista de direitos políticos e, estes, aos direitos sociais. Aqui, os sociais vieram primeiro, especialmente após 1930, com a queda da República Velha. A Constituição de 1988, ao garantir o direito de voto aos analfabetos, tornou os direitos políticos praticamente universais no país. Mas, enquanto isso, apesar de avanços como o Código de Defesa do Consumidor(1990) e da instituição do Programa Nacional dos Direitos Humanos (1996), o brasileiro ainda não pode confiar na Justiça e na polícia – além de desconhecer seus direitos, como mostra a pesquisa feita no Rio em 1997, quando 57% dos entrevistados não sabiam mencionar um só direito e quase metade achava que era legal a prisão por simples suspeita.
Leia abaixo entrevista concedida pelo historiador.
Porque o senhor decidiu escrever esse ensaio?
José Murilo de Carvalho – A pretensão do livro é levar o debate sobre o problema de nossa democracia para um público não acadêmico, utilizando conceitos da ciência política. É um livro engajado, mas sem receitas. Busca chamar a atenção para um problema central de nossa sobrevivência democrática: como fazer a democracia politica produzir igualdade social.
O senhor aponta que a palavra cidadania substituiu a palavra povo na retórica política. Isso esvaziou o conceito?
A palavra cidadania foi banalizada após a Constituição de 1988. Caiu até na boca de muitos políticos que deveriam ser proibidos de usá-la. Banalizar é maneira sutil de esvaziar. Quem aguenta mais ouvir falar em “resgate da cidadania”? A luta pela cidadania começa pela recuperação da própria palavra.
Para o senhor, a construção da cidadania no Brasil seguiu um caminho inverso ao percorrido na Inglaterra. Até que ponto isso inviabiliza a “cidadania plena”?
Argumento que houve vários caminhos para a maturidade democrática como concebida no Ocidente, muitos afastando-se da rota inicial percorrida pela Inglaterra. O nosso caminho praticamente colocou o modelo inglês de cabeça para baixo, na medida em que deixou por último a generalização dos direitos civis. A inversão não torna o alvo inatingível, mas explica as dificuldades que ainda encontramos.
Na sua opinião, o país deveria priorizar a garantia de direitos civis neste momento? É o esforço que falta?
Pensando de maneira não imediatista, a principal tarefa que se coloca é generalizar os direitos civis. Por isso entendo generalizar o conhecimento de sua existência e criar as condições de fazê-los valer. O cidadão precisa saber que tem direito de ter sua pessoa, sua liberdade, sua privacidade, sua dignidade, sua propriedade protegidas contra violações de particulares e do governo. E precisa ter ao seu alcance um aparato judicial capaz de protegê-lo. Isso só será possível com maciço investimento em educação e com profunda democratização do judiciário e moralização da polícia. O capítulo 1 da Constituição (direitos e deveres) devia ser matéria obrigatória no ensino fundamental e médio. Hoje, alunos universitários o desconhecem.
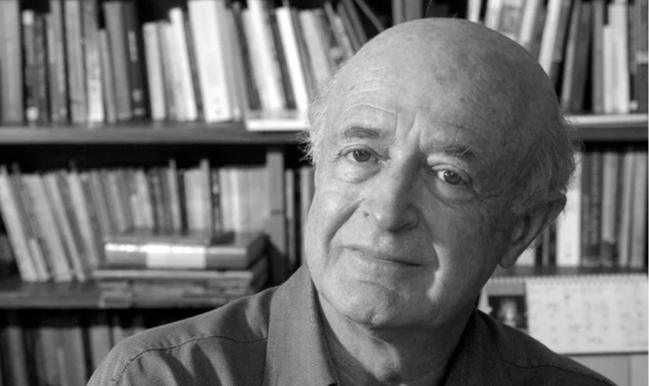
Twitter/Companhia das Letras
José Murilo de Carvalho foi um dos mais importantes historiadores do Brasil
Que direitos civis estariam próximos de serem conquistados, mas ainda não o foram?
Falo nos direitos básicos mencionados acima. São eles que dão o fundamentos para a ação política efetiva, para a cidadania efetiva, não súdita. São eles que dão sentido à prática dos direitos políticos. Sem eles, o voto, mesmo generalizado, permanece praticamente classicista, ou apenas ritualista. Não há direito novo a ser conquistado. Nosso problema emana questão dos direitos que é semelhante ao que se coloca no caso da educação e da riqueza. Eles se concentram em parcela pequena da população, entre os “doutores”, que até hoje são desiguais até na cadeia. Nosso Estado-Nação falhou na tarefa básica cumprida em outros países de reduzir as grandes desigualdades de riqueza, educação e direitos.
Num ambiente de recessão, endividamento crescente e neoliberalismo, como garantir a manutenção dos direitos sociais sem quebrar financeiramente o Estado?
Trata-se de mais um agravante de nosso predicamento. Uma coisa é a crise do Estado de bem-estar em países com níveis aceitáveis de desigualdade e alta escolaridade. Outra é a mesma crise em um país com 50 milhões de indigentes e igual número de analfabetos funcionais. O forte, em nosso percurso, eram os direitos sociais. São eles, no momento, os mais ameaçados.
Qual é o período de maior conquista para os cidadãos brasileiros? Por quê?
Apesar de tudo, acho que o momento de maior avanço é o atual, pós-1988. Embora ainda sem muita eficácia, os direitos políticos se generalizaram, as instituições representativas funcionam, pelo menos formalmente. Na educação fundamental tem havido algum progresso. O movimento de organizações civis tem crescido e aumentado sua intervenção na vida social. Mas tudo ainda é muito lento diante do tempo perdido.
Por que o senhor vê positivamente o papel do MST?
Porque incorpora, e de maneira ativa, não-cooptada, importante setor de marginalizados na vida econômica e política. A mera existência do MST é uma vergonha para o país, que chega ao século 21 sem resolver o problema do simples registro de terras, sem falar de sua distribuição. Ainda hoje o Incra desapropria fazendas inexistentes. Pergunto-me o que acontecerá se os milhões de marginalizados das grandes cidades conseguirem organizar-se da mesma maneira que os sem-terra. Se o sistema tem dificuldades em lidar com o MST, o que dizer diante de uma eventual movimentação dos 50 milhões de pobres? Ou de uma provável expansão de organizações do tipo do Comando Vermelho e do PCC?
Itamar e Garotinho são mostras do retorno, da permanência ou da decadência dos líderes messiânicos?
Da sobrevivência. Tudo o que precede indica que ainda há espaço em nossa sociedade para esse tipo de liderança, assim como para a de chefes políticos clientelistas como Maluf e ACM. A tradição de messianismo, a crença em figuras salvadoras, têm raízes profundas. A incapacidade de nossa democracia política em reduzir os índices de desigualdade, e a desigualdade em si, é caldo de cultura para o messianismo.
Do ponto de vista da cidadania, como o senhor analisaria a conjuntura de crise energética, crise de popularidade do Executivo, acusações contra o presidente do Senado e candidaturas de oposição liderando as pesquisas?
Registro de início a atitude antidemocrática e constrangedora do governo [Fernando Henrique Cardoso]. Diante de um erro monumental de planejamento, injustificado em administração que dura há seis anos, o cidadão, vítima da trapalhada, não mereceu sequer um pedido de desculpa. Apesar disso, o povo tem colaborado de maneira extraordinária, por medo ou espírito público. Quanto à corrupção, não creio que haja mais dela hoje do que antes. Violência e corrupção são endêmicas no País há 500 anos, são o nosso feijão com arroz social. A novidade é que está havendo mais denúncia e investigação dos grandes ladrões-políticos, juízes, empresários – em parte graças à melhoria na atuação do Ministério Público. É humilhante para o brasileiro, mas é um passo à frente para o cidadão.
Para o senhor, o grande número de partidos políticos é resultado da conquista de direitos políticos. A reforma política é realmente necessária?
O grande número de partidos é resultado de leis eleitorais e partidárias. Em si, o fenômeno não é mais nem menos democrático. Reformas políticas podem aperfeiçoar o sistema representativo, mas não creio que possam ir muito longe na direção de tornar o sistema mais sensível ao drama social do país, pelo menos a curto prazo. Acredito mais em reformas de instituições, como a polícia e a Justiça, em descentralização política e administrativa e, sobretudo, na ação dos de baixo cobrando diretamente responsabilidade dos de cima, com o uso de todo tipo possível de instrumentos de pressão. O paternalismo e o clientelismo não bastam, representação formal não bastará.
Publicado originalmente pelo jornal O Estado de S. Paulo em 15/07/2001












































































