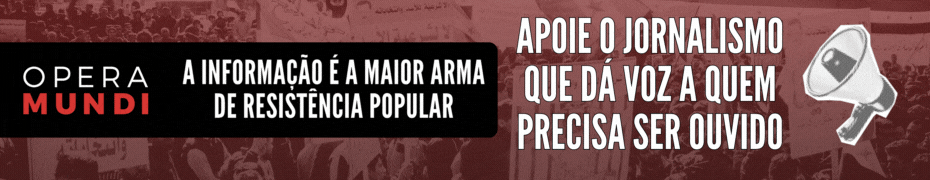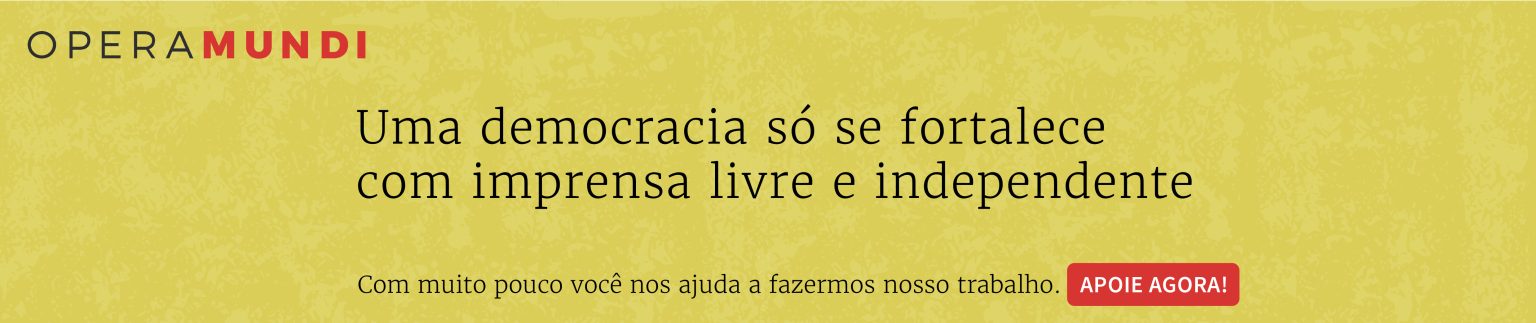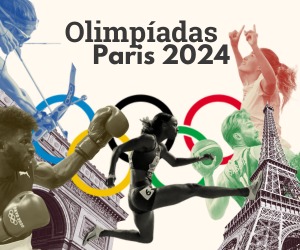Novembro de 2015: desastre da Samarco na bacia do Rio Doce. Janeiro de 2019: desastre da Vale no Rio Paraopeba. Dezembro de 2023: desastre da Braskem em Maceió. Todos eles desastres da mineração, de grande proporção, com expressiva cobertura de imprensa. E quantos outros não foram grandes o suficiente para repercutirem na mídia? Quantos mais ocorreram no resto do mundo neste mesmo período? E se, além da mineração, incluirmos nas contas a indústria petroquímica, a siderurgia, a energia nuclear?
Uma coisa é certa: não foram acidentes! São parte constitutiva do capitalismo e, ao mesmo tempo, fatos que escancaram sua forma predatória de consumir o trabalho humano e a natureza. Desde o advento da grande indústria moderna, o capitalismo esconde seu caráter destrutivo, e apresenta a degradação ambiental como um conjunto de erros eventuais na operação técnica ou política de suas atividades. Nada que o aperfeiçoamento científico – das engenharias, da administração de empresas, ou das leis – não pudesse corrigir.
A ideologia do progresso e do desenvolvimento é tão poderosa que durante muito tempo ninguém a questionou. Se a esquerda mundial foi capaz, desde Marx, de fazer a crítica da exploração do trabalho pelo capital e pautar a política dos séculos XIX e XX no mundo, no que tange à exploração da natureza, o silêncio foi total. Apenas nas últimas décadas do século XX a questão ambiental entrou no debate público. E sua entrada se deu por grupos e vertentes muito variados.
De um lado, poderosas ONGs, empresários e políticos defendem que os problemas ambientais podem ser resolvidos pela aceleração do processo de crescimento econômico. A equação é simples: mais capitalismo para gerar mais riqueza que proporcionará os recursos para proteger o meio ambiente. É necessário apenas agregar ao modelo ajustes técnicos (como a substituição de carros à gasolina por elétricos) ou financeiros (como a imposição de multas às empresas poluidoras para gerar receita para ações ambientais compensatórias). Este é o sentido que predominantemente se atribui ao termo “desenvolvimento sustentável”, consagrado pela ONU desde a Rio-92, ou ao que, mais recentemente, é chamado de “economia verde”.
De outro lado, a esquerda institucional questiona as soluções via mercado, bem como as situadas estritamente no terreno da técnica. Defende, entretanto, uma abstrata fusão entre a defesa do socialismo e o ambientalismo, adiando a questão ambiental para depois da “superação” do capitalismo, afinal, o que está em risco é o “futuro do planeta”. Para o presente, o mote segue sendo o desenvolvimento econômico para combater a pobreza, como se esta não tivesse qualquer relação com a degradação da natureza.

Por fim, temos os militantes dos movimentos populares, especialmente na periferia do capitalismo, para onde a divisão internacional do trabalho relegou as atividades econômicas mais intensivas em consumo de recursos naturais e, também, as mais ameaçadoras à vida e aos modos de vida dos seus próprios trabalhadores e das comunidades de entorno. Esta militância vem buscando denunciar a relação inseparável entre desigualdade social e ambiental. Os desastres, a poluição, a degradação da natureza não atingem igualmente todas as classes e grupos sociais. São as classes economicamente subalternas e as populações tradicionais que mais sofrem com a destruição da natureza e os que, ao mesmo tempo, não se beneficiam da riqueza capitalista gerada por sua exploração.
O ambientalismo popular vem demonstrando que o colapso ambiental não é o fim do mundo, mas sim o fim de alguns mundos. É o fim do mundo dos trabalhadores da Vale em Brumadinho, dos ribeirinhos e indígenas do Rio Doce (neste caso, já nos ensinou Ailton, é mais um fim do mundo dos Krenak), dos pescadores e moradores do entorno da Lagoa de Mundaú, e de tantas outras formas de viver que o capitalismo insiste em destruir. Os habitantes destes mundos estão alertando de forma clara – ao contrário das sirenes da Vale, que não tocaram em Brumadinho – que a onda de destruição do colapso ambiental capitalista não é algo para o futuro, é algo passado e presente.
Em janeiro de 2019, eu e uma equipe de jovens pesquisadoras fazíamos um trabalho técnico para auxiliar os atingidos do Rio Doce nas negociações de indenização com a Samarco. Tivemos que parar um dia e chorar os mortos pela Vale em Brumadinho. No dia seguinte, entretanto, voltamos a trabalhar, pois, para os que estão vivendo o fim de seu mundo, não há tempo a perder.
Nesta coluna abordarei, a cada mês, dimensões e contradições do colapso ambiental e o fim de muitos mundos, tentando mostrar o que os está destruindo, mas, também, os alertas que eles vêm lançando. Não é apenas por eles. É por nós: todos os que não frequentam os encontros de Davos.