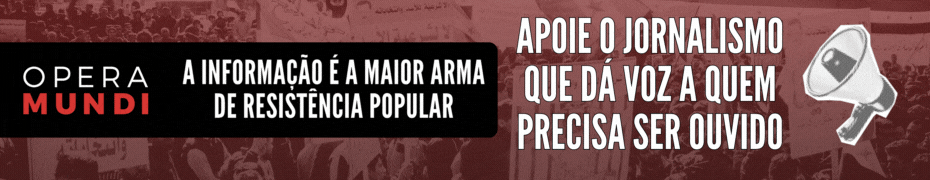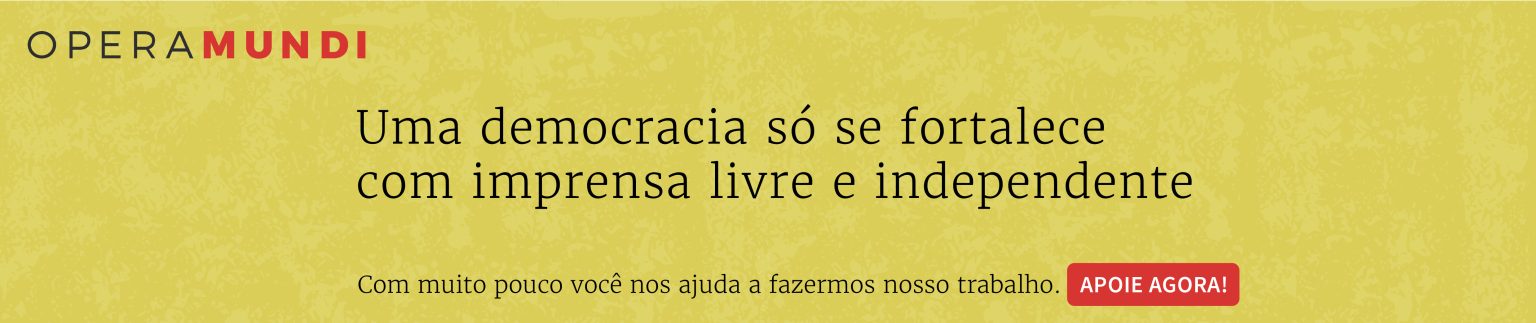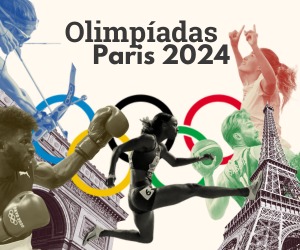Esta é uma continuação do artigo publicado no sábado (23/09), no qual foram analisados dois assuntos que estão entre os mais importantes para a humanidade no momento atual: a recessão econômica com inflação a nível global e a disputa pela hegemonia mundial.
Analisemos agora outros três desafios cruciais para o futuro do planeta:
3. Desigualdade e pobreza sem precedentes
Estudo publicado em 2023 pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) mostra que 10% da população concentra mais de 52% da riqueza mundial, enquanto 1,1 bilhão de pessoas, pertencentes a 110 diferentes países, vivem em situações de pobreza multidimensional aguda.
Outra estatística, desta vez da Organização das Nações Unidas (ONU), revela que mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável e quase 3,6 bilhões possuem qualquer tipo de saneamento e esgoto. Já o Banco Mundial afirma que quase 800 milhões de pessoas não têm acesso à eletricidade.
Perante esta tragédia da humanidade, os Desafios para o Desenvolvimento Sustentável – série de metas sugeridas pela ONU como recomendação para fortalecer o crescimento dos países, não consegue se mostrar como um parâmetro eficiente para a resolução da desigualdade e da pobreza, que atingem recordes sem precedentes. A promessa de “acabar com a fome e a desnutrição até 2030” vai se tornando cada vez mais ilusória.
A crise econômica permanente exacerbada pelos extremos climáticos, guerra na Ucrânia, sanções econômicas criminosas e pela disputa geopolítica mundial bloqueia a produção de bens públicos globais destinados a reduzir a desigualdade e a pobreza. As cadeias de abastecimento dos alimentos, fertilizantes e sementes estão quebradas. Essa situação tem um impacto brutal na segurança alimentar, especialmente no Sul Global.
A desigualdade e a pobreza também ocorrem no centro do sistema capitalista. Joe Biden admitiu que este ano os Estados Unidos ficarão sem fundos para financiar as vacinas de covid-19. A luta contra a pandemia, muito provavelmente, passará a ser gerida pelo setor privado, num país onde cerca de 100 milhões de pacientes adultos precisam contrair dívidas para pagar as suas contas médicas.
4. Insegurança coletiva
Tornou-se impossível sonhar com uma vida segura e em paz, em qualquer lugar do mundo. A violência está se espalhando em todas as suas formas e a segurança global, tanto individual quanto coletiva, está em risco. As mudanças estruturais promovidas pelas potências mundiais desencadeiam processos bélicos que colocam em evidência a exigência do desenvolvimento de armas que ameaçam a sobrevivência da humanidade. Os Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, China, Irã, Coreia do Norte, entre outros, demonstram abertamente a sua expansão nuclear, que inclui centenas de depósitos de novos mísseis, ogivas e outros dispositivos nucleares.
Neste turbilhão de guerra, o “desarmamento nuclear” pregado nas cúpulas internacionais tornou-se apelo inútil. Os avanços tecnológicos estão sujeitos aos interesses geopolíticos das superpotências, que se apropriam dos novos protocolos e ferramentas (TIC, robótica, IA, etc) e colocam em segundo plano o serviço que deveria ser prestado à segurança e tranquilidade da humanidade.

Pexels
Aumento da desigualdade e da insegurança, junto com o congelamento da transição energética, estão definindo um futuro cada vez mais complexo
Essa lógica perversa de segurança coletiva global adquire conotações próprias a nível regional, que vão desde processos de instabilidade e violência política em diversos países do Sul Global (como da região do Sahel, na África, do Oriente Médio e da América do Sul) até as disputas regionais, fruto do processo de configuração de um mundo multilateral, no qual diferentes setores passaram a se interessar pela busca de um sistema de segurança próprio.
Os cenários descritos afetam não só a segurança individual e coletiva a nível global, mas também a capacidade de organizações multilaterais, como a ONU ou a Organização para a Segurança e a Cooperação Europeia (OSCE), que há algumas décadas deixaram de ser guardiãs da “paz e ordem mundial”.
5. Transição energética congelada
A transição energética é o processo pelo qual o sistema energético baseado em combustíveis fósseis é gradualmente substituído por outro que prioriza as fontes de energia renováveis.
Esse processo foi afetado pela intensificação da disputa pela hegemonia global entre China e Estados Unidos, pela guerra na Ucrânia e absurdas sanções ocidentais contra Rússia, Venezuela e Cuba. Projetos e programas voltados ao desenvolvimento de energias alternativas estão praticamente paralisados.
Neste cenário, a procura e o consumo de carvão, o combustível mais poluente, têm registado aumentos que atingem níveis máximos históricos. A Agência Internacional de Energia (AIE) publicou um estudo recente no qual revela um crescimento superior a 7% no uso do carvão a nível mundial, o que significa mais de 8 bilhões de toneladas de consumo – mais de uma tonelada para cada pessoa no mundo.
Consequentemente, a construção de infraestruturas de combustíveis fósseis continua avançando, enquanto toda a vontade política para travar o aquecimento global se desvanece. As estimativas da comunidade científica é de que, se isto continuar, teremos um aumento de 2,5ºC na temperatura média do planeta, suficiente para transformar florestas em desertos, inundar cidades costeiras e gerar casos severos de seca em todos os cantos do planeta, causando a morte de milhões de pessoas.
O mais grave da transição energética é o paradoxo de crescer tecnologicamente com “energia limpa” mas, ao mesmo tempo, continuar a poluir e a causar o aquecimento global. Um exemplo dessa questão é o avanço da nova infraestrutura digital, que exige processos extrativos altamente poluentes, da mesma forma que produz, indiretamente, um aumento dos resíduos gerados pela obsolescência cada vez mais rápida dos equipamentos eletrônicos.
Essa situação, Segundo o Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, “essa situação levará a um aumento das desigualdades e uma maior concentração do poder econômico e político a nível global”.
No próximo artigo, abordarei outras das “pragas” da atualidade.
(*) Nilo Meza é economista e cientista político peruano.
(*) Tradução Victor Farinelli.