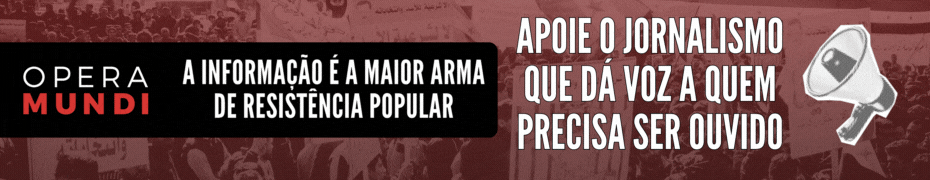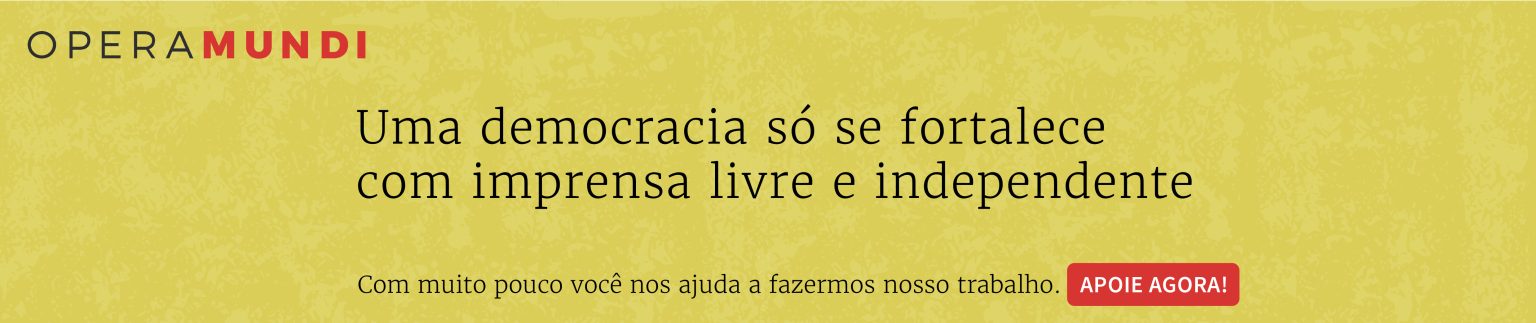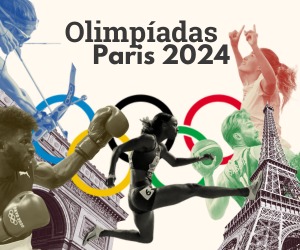As grandes utopias do século XIX provocaram uma grande mudança nos objetivos da política internacional, logo no início do século XX. Nas décadas seguintes, entretanto, seu impacto sobre a política externa das grandes potências foi bem menor do que a expectativa criada pelas propostas do presidente norte-americano Woodrow Wilson na Conferencia de Paz de Paris, depois da Primeira Guerra Mundial: cosmopolitas, anti-colonialistas e favoráveis a um sistema de segurança coletiva internacional, com a criação da Liga das Nações.
E o mesmo se pode dizer com relação à expectativa criada pelas ideias e propostas, feitas quase simultaneamente, por Lenin, já na condição de chefe de Estado da União Soviética: internacionalistas, anti-imperialistas e favoráveis à autodeterminação dos povos. Foram ideias e propostas que revolucionaram o velho sistema europeu de equilíbrio de poder, liderado pelo liberalismo colonialista da Inglaterra e da França. E, depois, expandiram-se e conquistaram a maior parte do mundo, junto com a expansão do poder global dos EUA e do poder regional da URSS, até a constituição do “duopólio” que geriu o status quo internacional durante a Guerra Fria (1945-1991).
Num primeiro momento, as novas ideias se difundiram com rapidez no vácuo criado pela guerra e pela autodestruição do velho liberalismo europeu. Mas, depois da morte de Wilson e de Lenin, eles se transformaram no “projeto civilizatório”, das duas potências nacionais expansionistas que se saíram vitoriosas da Segunda Guerra Mundial. E depois de 1945, na maioria dos casos, se transformam num senso comum repetido por todas as lideranças mundiais e organismos multilaterais, depois de sofrer um rápido esclerosamento, com sua transformação em arma ideológica dos dois lados na competição estratégica da Guerra Fria.
Após a vitória norte-americana na Guerra Fria e o fim da URSS, a ideologia e a ética internacional liberal-democráticas reinaram vencedoras durante alguns anos e se transformaram na linguagem imperial do poder vitorioso, como se não existisse mais nenhuma divergência de interesses entre os países que desejam manter e os que desejam o mudar o status quo mundial.
Esta breve história do século XX deixa uma lição importante para o debate atual sobre a política externa brasileira. Em primeiro lugar, porque os EUA e a União Soviética – no seu momento revolucionário – tinham uma teoria e uma leitura próprias da história das relações internacionais e questionavam a ordem hierárquica internacional liderada pelo Poder Britânico, o que ajuda a definir a fronteira que separa efetivamente a política conservadora de uma política externa inovadora e progressista.
O ponto de partida é simples: quando um estado se propõe a expandir seu poder internacional, terá que questionar e tentar alterar, em algum momento e de alguma forma, a distribuição prévia de poder dentro do sistema mundial. Para isto, terá de ter sua própria leitura do sistema para poder definir os seus objetivos estratégicos específicos e diferentes das potências dominantes. Também são necessárias uma teoria e uma visão críticas dos processos de formação dos conflitos e das assimetrias de poder dentro do sistema, e capaz de separar os interesses dos vários estados envolvidos em cada um dos grandes tabuleiros regionais, e dos grandes conflitos do sistema mundial.
Para poder formular uma estratégia global ou regional de poder, uma política externa inovadora deverá localizar todos os fatos e situações relevantes dentro de uma perspectiva sistêmica, e com relação aos seus próprios objetivos estratégicos e ao objetivo central, que é a mudança da distribuição do poder mundial.
Como consequência, não haverá jamais uma política externa progressista e inovadora que não questione e enfrente os consensos éticos e estratégicos das potências que controlam atualmente o núcleo central de poder do sistema. Neste campo, não estão excluídas as convergências e as alianças táticas, e temporárias, com uma ou várias das antigas potências dominantes. Mas toda política externa progressista e inovadora sabe que está em permanente competição e divergência com os diagnósticos e as estratégias defendidas pela potência dominante no espaço regional ou global.
Moralismo
Por uma causa de uma “lei” do sistema inter-estatal e de uma determinação geográfica, muito mais do que uma escolha ideológica. Trata-se de ampliar a capacidade de decisão e iniciativa estratégica autônoma do estado “questionador”, no campo político, econômico e militar, e portanto de aumentar a eficácia de suas idéias e propostas de mudança do sistema mundial.
Do lado oposto, fica mais fácil de definir e identificar as características essenciais de uma política externa conservadora. Em primeiro lugar, ela não define seus objetivos estratégicos a partir do questionamento da distribuição atual do poder internacional, nem se dispõe a questionar a hierarquia de poder existente do sistema mundial. Os conservadores analisam as situações colocadas pela agenda internacional, de forma empírica, isolada, individualizada e moralista. Eles não têm uma teoria sistêmica nem uma visão histórica própria do sistema mundial. Analisam as situações geopolíticas de forma isolada, formal, quase sempre moralista, e só concebem políticas e estratégias incrementais, de mudança ou de ajustamento progressivo às transformações e desafios que vem de fora.
Com baixa capacidade de iniciativa endógena e alta taxa de submissão aos valores, juízos, e decisões estratégicas da potencia dominante. Por isto, consciente ou inconscientemente, os conservadores sempre delegam soberania decisória a terceiros, e sua política externa é invariavelmente subalterna. Como foi o caso, na década de 1990, da política externa do Brasil e dos demais países da América do Sul. Uma década que passou para a História, sob o signo da proposta argentina de estabelecer “relações carnais” com os EUA.
NULL
NULL
NULL